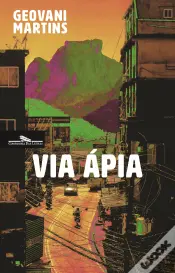O Sol na Cabeça
de Geovani Martins
Saiba mais sobre preços e promoções consultando as nossas condições gerais de venda.
Saiba mais sobre preços e promoções consultando as nossas condições gerais de venda.
DATA PREVISTA DE ENTREGA
A data prevista de entrega pode ser alvo de alterações e recálculos, nos seguintes cenários não exclusivos: caso o pagamento não seja efetuado de imediato; o cliente altere a sua encomenda; exista uma diferença na disponibilidade de um artigo; necessidade de um pagamento suplementar; entre outros.
Pode consultar a data prevista de entrega da sua encomenda no último passo do checkout e confirmar a mesma nos detalhes da encomenda a partir da área de cliente
EM STOCK
PRÉ-LANÇAMENTO
DISPONÍVEL
OFERTA DE PORTES
Oferta de Portes válida para entregas nos Açores e Madeira, em todas as encomendas enviadas por Entrega Standard. Ofertas de portes válidas para encomendas até 10 kg.
Promoção válida para encomendas de livros não escolares registadas até 31/12/2024. Descontos ou vantagens não acumuláveis com outras promoções.
Mas estas também são histórias de amizade, amor e alegria: o prazer dos banhos de mar, as brincadeiras de rua, a adrenalina das pinturas murais, os namoros fugazes.
Histórias de esperança e desespero, que dão rosto e alma aos invisíveis da Cidade Maravilhosa, que é também uma cidade partida.
«O livro mais importante da literatura recente.»
Marcelo Rubens Paiva
«Fiquei chapado.»
Chico Buarque
«O sol na cabeça é uma das mais importantes narrativas sobre a devastadora desigualdade que arrasa a sociedade brasileira desde Cidade de Deus.»
Misha Glenny
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9789896655860 |
| Editor: | Companhia das Letras |
| Data de Lançamento: | julho de 2019 |
| Idioma: | Português |
| Dimensões: | 147 x 231 x 10 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 144 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação temática: | Livros em Português > Literatura > Romance |
| EAN: | 9789896655860 |
O Sol na Cabeça
João S.
Uma estreia muito interessante e comovente de Geovani Martins com este belíssimo livro de contos. A realidade crua, sem floreados. Uma tensão aparentemente comedida mas sempre presente ao virar da próxima frase. Mas o que mais me chamou a atenção e que, a meu ver, torna o livro especial é a quotidianidade da sua linguagem. Recomendo claramente!
Muito bom
dmpm
muito bem escrito, leitura leve que os dá a conhecer alguma realidade da favela carioca
Pouco a pouco ou de rajada
Gustavo Infante
Esta colectânea de contos permite ao leitor entrar de rompante num entrecruzar de realidades que talvez não conheça; realidades consideradas periféricas. O estilo coloquial é uma constante e é frequente a necessidade de ter de ler em voz alta. Cada conto é um micro-cosmos ou apenas um grão de areia de um cosmos maior - o livro em si. Daí que seja possível ler estes contos como unidades isoladas, ou ler o livro de rajada. Já Tom Jobim dizia que "o Brasil não é para principiantes" e este livro é um bom exemplo disso.